O herói
Santos, janeiro de 1970. A praia do Gonzaga era uma festa. Havia gente que não acabava mais. Era sol e som, sal e mar. O sol brilhava no céu azul e o som vinha dos carrinhos de pastéis e, principalmente, dos de batida. Desfilando com incrível agilidade entre os banhistas escarrapachados em suas cadeiras-leito, os vendedores de amendoim, espetinhos de camarão, queijo coalho e queijadinha não se cansavam de alardear as qualidades dos seus produtos. Mas quem chamava atenção, mesmo, eram os ambulantes, ou melhor os malabaristas, que vendiam óculos de sol, chapéus, bonés, cangas e coisas do gênero. Verdadeiros artistas do equilíbrio que, além de tudo, tinham um forte poder de convencimento junto aos seus fregueses. Enfim, aquele era um lugar de gente feliz e despreocupada. Eu estava feliz, mas estava preocupado. Tinha uma missão quase impossível, de êxito tão improvável quanto encontrar uma agulha no palheiro. E enquanto caminhava de mãos dadas com uma menina de cinco anos, totalmente desconhecido e que eu jamais vira na minha vida, a minha cabeça era invadida por um turbilhão de pensamentos.
Foi assim: eu e Cibele estávamos na referida praia quando notamos que Simone, quatro anos, e ainda filha única, brincava animadamente com uma menina que havia surgido do nada, como se tivesse caído do céu. As duas se divertiram como gente grande, até que chegou o momento de ir embora. Quando eu perguntei onde estavam os seus pais, ela balbuciou "Não sei". “Qual o seu nome? ” Resposta inaudível. “Onde você mora? ” Cidade mais provável: Sorocaba. Aí bateu o desespero e ela começou a chorar. Acalmei-a e começou a busca. Pela família, pelo salva-vidas ou pela polícia militar. Enquanto caminhávamos pela areia, a minha condição de pai me permitia avaliar o sofrimento dos familiares da garotinha. O pai, aflito, pedia informações às pessoas nos arredores. Cada resposta negativa era uma punhalada no seu coração. A mãe era verdadeira imagem do sofrimento. Desesperada, totalmente descabelada, ela fazia promessas a todos os santos do céu e da terra. Para cumpri-las, teria que viver mais 100 anos. E ela só não estava com o terço nas mãos porque ninguém costuma levar o terço à praia. Na minha imaginação, a cena era comovente e compungente - algo para ficar gravado para sempre na memória, mesmo de quem fosse vítima da mais profunda das amnésias. Mas a minha imaginação ia além. Ao chegar levando a menina desaparecida, eu seria alvo da mais profunda - e merecida! - gratidão e seria considerado herói. Eu até disputaria a medalha e o diploma. Para mim, bastaria o agradecimento sincero da família.
Voltei à realidade quando a menina gritou "meu pai" e saiu correndo. Embora estivesse vazia, o tamanho da barraca indicava tratar-se de uma excursão. Lembra-se prezado leitor, daquela cena em que eu imaginei o pai aflito e uma mãe desesperada? Pois ela não aconteceu. Ou melhor, aconteceu às avessas. A que presumi ser a mãe da fujona estava absolutamente calma. E o pai, sem largar o copo de cerveja estava interpelando a filha. Não pelo sumiço, mas por um motivo inimaginável: "Onde está a sua irmãzinha? Eu não falei para você tomar conta dela?" Incrível: o homem sequer notara o desaparecimento daquela filha pequena, e agora estava preocupado com a outra, ainda menor. Não lhe dirigi uma única palavra. Ele não merecia nem meia!
Em tempo: jamais tive qualquer pretensão de ser herói. Os fatos narrados aqui são verídicos. Mas essa história de ser herói não passa de um mero exercício de criatividade. O importante é fazer o bem, praticar boas ações, sem jamais esperar qualquer tipo de gratidão!













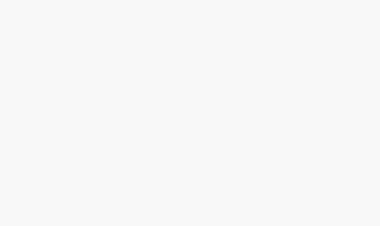












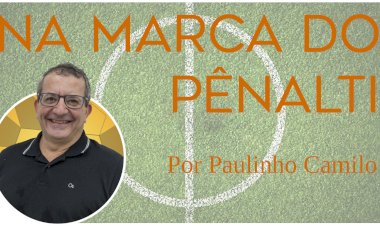











Comentários (0)
Comentários do Facebook